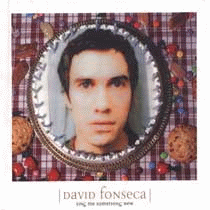Escreve quando sente que tem de o fazer, à mão, como sempre. Foi jornalista, professor, e gosta de nadar desde que aprendeu no rio Ardila do seu Alentejo, ainda criança.
Após meio século debruçado sobre o papel, libertando a tinta nas palavras, e as ideias, os sonhos, em cada letra, Urbano sobrevive semeador de sensações, comunista sem ilusões, insubmisso desenhador de brisas fátuas, nas Máscaras Finais de uma Terra Ocupada só por si. Apesar da Hora de Incertezas, Nunca Diremos Quem Sois, mas nesta Estação Doirada que é a vida, reconhecemos quem É.
Onde escreveu pela primeira vez?
Foi precisamente em Moura, vila alentejana onde nasci, e que é para mim uma das mais belas terras do mundo, com o castelo, a mouraria…marcou a minha vida… lá escrevi a pela primeira vez, uma história de índios e cowboys, que acabei por deitar fora!
Aos 12 anos, vim para Lisboa, embora continuasse a ir para lá durante as férias de Natal e da Páscoa, e foi aliás num destes períodos que escrevi Bastardos do Sol, o meu primeiro romance, curioso…Lembro-me perfeitamente, era princípio de Verão, demorei 20 dias a escreve-lo, comecei em Moura e acabei em Sines, já noutro Alentejo.
Por volta dos 17 anos, comecei a escrever coisas que guardei, mas também tive a sorte de encontrar um fantástico professor, que se tornou depois meu amigo, Jacinto do Prado Coelho, que me aconselhou e encaminhou e publicou o meu primeiro livro. Precisava desse estímulo, de alguém que me dissesse: “Você tem talento. Ainda está verde, ainda tem de descobrir tanta coisa, mas continue, que o seu caminho é esse!”. Devo-lhe muito.
Provavelmente, essa visão do mais nobre dos espíritos da docência tê-lo-á também encaminhado para vir a ser professor anos mais tarde, e porventura cumprir esse papel de “tutor literário” com alguns dos seus alunos?
Certamente que sim. Comecei como assistente do Vitorino Nemésio
Há antigos alunos meus, como o João Rui Freire, a Joana Gorjão Henriques, hoje redactora do Público, e alguns outros que eu gosto de pensar que ajudei a revelar, sim.
Com a campanha de Humberto Delgado, fui afastado, e acabei mesmo por ser proibido de ensinar, e só regressei à actividade com o 25 de Abril.
Esse era uma espécie de conto, que falava do fim de um romance de dois jovens enamorados, precisamente no dia 25 de Abril. Na realidade, esse foi um dia lindíssimo. Não só o vivi com uma grande alegria mas com um grande empenhamento. Recuando um pouco, trabalhava em dois jornais, no Diário de Lisboa e no Século, onde era o redactor da noite, o que fez com que estivesse muito próximo de tudo o que aconteceu. Eram três da manhã, fiz a barba à pressa e fui a correr para o Rádio Clube, e depois para a Rua do Arsenal, onde estive com as tropas, e depois para o Carmo, onde abracei tanta gente que não conhecia, e onde esperávamos todos pela transformação de que precisávamos.
Imaginou, nessas horas, o que seríamos hoje?
O que vejo, é que chegámos a um ponto em que estamos completamente dependentes da Europa. Hoje seria impossível uma coisa como o 25 de Abril em qualquer país da União Europeia.
Atravessamos uma situação preocupante… Não sou nenhuma Padeira de Aljubarrota, mas não consigo aceitar de animo leve a simples sugestão que por aí se vai configurando, de um estado Ibérico. Há uma insurreição dentro de mim quando penso nisto. Mas a verdade é que economicamente dominam Portugal…
E a Esquerda, em concreto o seu Partido Comunista, onde se encontra?
Julgo ser necessário um relacionamento profundo entre intelectuais, sindicalistas e trabalhadores, para que se caminhe para a Europa dos Cidadãos e não para a Europa das transnacionais.
Não gosto de sectarismos, e não gostei de algumas coisas que se passaram no meu partido e contra as quais me opus e me oponho. Com o caldeamento de proveniências que sempre foi Portugal, com grandes benefícios para o nosso desenvolvimento enquanto nação pluri-cultural, torna-se urgente observar que os mais excluídos não são hoje os operários mas sim os imigrantes que sobrevivem em condições deploráveis, desumanas mesmo. Se o PC souber acompanhar estas novas realidades, como me parece que está acontecer, poderá sem dúvida crescer, e fazer acreditar ser possível atingir uma democracia a caminho do socialismo, com crítica, com vigilância, com vontade de fazer melhor. Acredito numa leitura Marxista da história.
Ainda no campo das revoluções, das manifestações humanas, das mais simples às mais complexas, pressente-se a falta de espontaneidade nas sociedades modernas. Há ainda espaço para a liberdade individual?
Somos cada vez mais controlados por uma espécie de Big Brother, que é o próprio mundo da imagem, da informação, dos ficheiros, onde cada vez mais se nota a perda da autonomia, do gosto pela vida. Estamos hoje, e sem nos darmos conta disso, culturalmente colonizados, e não só nós, como toda a Europa. Este tipo de sociedade, do ´salve-se quem puder` aprisiona precisamente a espontaneidade, de sermos e existiremos como indivíduos. As desigualdades sociais, a falta de emprego, e tantos outros problemas, levaram a que se tenha perdido muito em originalidade, efectividade e intervenção.
Sobrevivemos num mundo de homens imperfeitos, de oprimidos e opressores?
Sim, um mundo de guerras. Na minha juventude sonhava num mundo diferente, que os homens aprenderiam a viver de uma outra maneira. Isso ainda não é verdade... e não sei se algum dia será...
Mas é um optimista desiludido, ou apenas um crente na esperança…?!
Até certo ponto sinto-me desiludido, sim, mas não deixo de acreditar que é possível conseguir melhor do que aquilo que temos. Existem ainda alguns movimentos de orgulho colectivos como os festejos do Europeu de futebol, ou a grande corrente de solidariedade por Timor, em que de facto, tal como em Abril, fomos ouvidos em todo o mundo, e com resultados práticos na vida daquelas pessoas que ali agora vivem, apesar de todas as dificuldades, a democracia.
Nota-se em Portugal um certo cinzentismo, um certo silêncio entre as pessoas, na rua, nos transportes públicos… Como ilustrador de personagens, como observa as personalidades da vida quotidiana, as pessoas que fazem o nosso país?
Os portugueses são por natureza hospitaleiros, mas a nossa vida é tão cinzenta e difícil que nos tornámos todos mais recolhidos e defensivos, porventura um pouco tristes.
Retomando os caminhos da literatura, depois de 50 anos de vida de escritor, o que lhe vai na alma?
É verdade, é muito tempo, uma vida... de outras coisas também, mas sobretudo de escrita. Quando penso nisso olho para trás e vejo vários períodos da minha existência, da minha produção literária e…, mas nenhum escritor está contente com aquilo que fez. Gostaria de ter composto o grande livro da minha vida e nunca o fiz. Por vezes, ao escrever um romance, penso que “este sim, será o meu grande romance!”, mas depois resulto sempre insatisfeito, não consigo sentir-me feliz com o que escrevi.
O Eça, que foi muito maior escritor do que eu, considerava-se um vencido da vida. Creio que normalmente somos todos vencidos da vida e da obra.
Consegue definir as diversas fases da sua vida literária?
Aquela a que chamaram existencialista foi a primeira. Uma visão do mundo influenciada pela filosofia da existência, de Sartre, de Camus, de André Malreaux e de outros autores que eu tinha lido muito, mas também pela minha própria experiência.
No regresso de França, uma fase diferente, tornando-se a minha literatura mais acentuadamente de resistência, à luz da consciência de que o escritor deveria contribuir para o derrube do fascismo através da revelação crítica da realidade.
Mas como no fundo eu sou mais um escritor do desvendamento da alma, das profundidades do ser humano, do que de inquéritos sociais, as duas coisas misturavam-se.
E então o entusiasmo de Abril, e uma literatura de esperança, muito acentuada neste tão breve, quanto a Revolução, terceiro período.
Chego depois a um certo tempo de inquietação e de luto, observando o fracasso de uma forma de socialismo, o chamado socialismo real. Eu tinha consciência de que as coisas estavam mal na União Soviética e noutros países socialistas...
Quais os livros que recorda e que estiveram presentes na composição da sua vasta obra, e porventura da sua vida?
Quando era miúdo lia os livros da biblioteca do meu pai. Por volta dos 10, 11 anos, A Ilha Misteriosa do Júlio Verne, Os Três Mosqueteiros, A Rainha Margot… Mais tarde descobri os autores portugueses, o Aquilino Ribeiro, o Eça de Queiroz, o Pessoa, o David Mourão Ferreira, a minha amiga Sophia, Eugénio de Andrade, o Alexandre Herculano, o Teixeira Gomes, que foi amigo do meu pai.
Como vivia perto da fronteira, falava espanhol desde cedo, descobri o Cervantes e outros escritores castelhanos que nos eram trazidos pelos homens de barba negra, comprida, desgrenhada, refugiados do exército republicano derrotado por Franco, que ficavam escondidos no monte onde vivíamos.
Já em Lisboa, o Dostoievski já o conhecia, mas depois li tudo, o Gorki, o Tolstoy, Pushkin, mas por outro lado comprava os romancistas norte-americanos, o Hemingway, o Faulkner…
Não, lembro-me mais dos de ficção É curioso, quanto mais imagino e me afasto de mim, mais vou fundo na compreensão do Ser Humano, porque me liberto, até de mim, e então torna-se mais universal aquilo que se escreve, como
O que procura nas palavras?
Aquilo que sempre me preocupou mais foi a compreensão do Ser Humano, na tentativa de descer ao mais profundo dos seus significados, e ao mesmo tempo da sua relação com os outros.
E como sofri uma grande influência na minha juventude, da filosofia existencialista, acontece que os meus livros estão quase todos marcados pela suspeita, pela dúvida, pela própria incerteza, que no fundo caracterizam o ser humano, nas suas contradições, e nas suas perplexidades, mas também pela esperança, o desejo e a convicção de que atingiremos um grau de civilização superior, onde haverá maior fraternidade e conciliação entre liberdade e justiça social.
Há sempre em todos os comportamentos humanos a procura da autenticidade, e a dúvida sobre quando se é verdadeiramente autêntico ou não. Tenho ainda outra preocupação, o amor da palavra, uma certa vontade de explorar todos os seus sentidos, e ainda de os subverter, numa linha estética, não no sentido surrealista, de seguir o ditado do inconsciente, mas ainda assim permanecer ligado ao onírico.
Como descreveria o escritor Urbano, na urbanidade do seu dia-a-dia?
Por um lado, profundamente subjectivo, por outro, muito ligado ao mundo dos outros. Parece contraditório, mas bem no fundo possuo essas duas direcções.
Não posso escrever ao computador por um problema de olhos, faço-o à mão, principalmente de manhã, mas só quando o sinto… Hoje por exemplo fui nadar para a piscina aqui perto de minha casa. Aprendi pequeno, no rio Ardila, fiz parte da equipa da Faculdade de Letras, mas hoje a saúde já não mo deixa fazer quando quero.
Urbano existiria apenas como escritor, ou pode imaginar-se numa outra qualquer forma de vida?
Como falávamos, fui professor, jornalista, redactor de publicidade, mas tudo relacionado com as palavra, pois era aquilo que sabia fazer. Mas quando era muito jovem tinha vocação para a matemática, e as notas do colégio equilibravam-na inclusivamente com as disciplinas de literatura, língua portuguesa…Até o meu primeiro exame para aferir a vocação profissional indicava a matemática como a minha principal inclinação! Mas, porque gostava muito de ler, sabia que não era! E fui para Letras.
Não podem ser dissociáveis a leitura e a escrita, ou haverá algum escritor que não goste de ler?
Ambas estão ligadas à palavra, são coisas interdependentes. Preocupo-me quando dou aulas, a ensinar os meus alunos a lerem melhor, para se puderem expressar melhor no domínio da escrita, e é assim que por vezes me deparo com autênticos talentos.
É bom ou mau para a escrita, que os vastíssimos recursos que a língua proporciona sejam por vezes tão parcamente utilizados?
Nós temos uma linguagem que é de todos. Creio que é assim que se começa, e a pouco e pouco, quando se é escritor, quando se sente isso, vai-se procurando escrever de uma maneira que seja mais rica, original e por fim, que seja nossa. A literatura a que se chama fácil, tem o mérito de ser muito lida, o que é bom, mas não perdura na memória, não permanece.
Quando abrimos uma página da Maria Velho da Costa, sabemos que é dela, e quando falamos dela falamos do Miguel Torga e de tantos, tantos outros que atingiram esse patamar.
Uma forma de assinatura…
È a individualidade artística da pessoa.
Por,
Pedro Cativelos